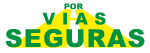Morbimortalidade no trânsito: limitações dos processos educativos e contribuições do paradigma da promoção da saúde (3a parte)
(Extrato de um artigo de Vitor Pavarino, CFTRU, Brasília, 2009)
Conclusões
Referências
Conclusões
O comprometimento de setores ligados à saúde na investigação das causas dos conflitos no trânsito - assunto historicamente relegado às áreas de transportes e segurança pública - demorou-se em se manifestar de maneira mais intensa21 até assumir que, como as cardiopatias, o câncer e as doenças cerebrovasculares, os traumas adquiridos no trânsito devem ser entendidos como um problema que responde bem a intervenções eficientes. A importância do setor saúde, em função do espaço que ocupa institucionalmente e da capacidade de "contagiar" outros setores e a sociedade civil,22 empresta à discussão da segurança no trânsito uma força há muito reclamada e - mais importante - enfatiza a essencialidade da vida, em contraste com uma racionalização da questão tradicionalmente ocupada com a eficiência e otimização dos deslocamentos veiculares.
O apontamento dos fatores negligenciados na problematização da morbimortalidade no trânsito não visa, como dito, determinar a inviabilidade da educação de trânsito, mas, com toda certeza, ressignificá-la. E isto implica uma imprescindível revisão da avaliação dos problemas e uma decorrente reformulação de conteúdos e estratégias, a partir da determinação de prioridades.
Em um quadro onde os segmentos mais influentes da sociedade promovem a reprodução de um ambiente que privilegia a fluidez dos carros, em detrimento da segurança geral, o fortalecimento da democracia é projeto de nação para mais de uma geração e, dada a sua condição fundamental de processo, sua evolução é sujeita a resistências, a momentos estacionários e mesmo a retrocessos. Mas, além do envolvimento de altas esferas decisórias, a pavimentação do caminho dá-se também no exercício cotidiano, em iniciativas nos níveis mais imediatos de ação. Assim, mais do que meras ações sujeitas às sobredeterminações de uma ideologia dominante, intervenções voltadas ao ambiente de circulação podem ser, antes, instrumentos auxiliares e mesmo indutores das transformações na esfera política.
O aprimoramento do processo democrático e da cidadania, portanto, não deve ser entendido como pré-requisito para as intervenções no trânsito, mas, inversamente, as intervenções em si podem consistir formidáveis meios para se induzir avanços. A consolidação da prioridade dos pedestres nas faixas de travessias não-semaforizadas em Brasília-DF,23 por exemplo, cumpriu uma função que, em sua dimensão simbólica, foi além do objetivo de administrar o tráfego de veículos e pedestres: ela ajudou a redefinir relações. Assim como a construção de uma ciclovia ou de uma faixa exclusiva para ônibus sinaliza um posicionamento político em favor dos ciclistas ou dos passageiros de transporte público, a determinação do respeito ao pedestre na faixa instaurou um ambiente que comunicou - no investimento em favor da obra ou na aplicação efetiva da lei - uma decisão por um reconhecimento efetivo (e não meramente retórico) da importância dos pedestres.
A execução de medidas voltadas à realidade das nações em desenvolvimento, visando os países que respondem por desproporcional carga de lesões e mortes no trânsito,24 demanda, nesse sentido, uma visão claramente identificada na promoção da saúde, assim como o aprimoramento de uma cultura intersetorial que articule saberes e experiências.25 Além de respostas efetivas, a agenda promocional inclui elementos não aparentes no "iceberg" da morbimortalidade no trânsito, em aspectos como as poluições, nos conflitos que não geraram necessariamente lesões ou ainda, no medo, na ansiedade e na negação de mobilidade a determinados grupos.11,26
A idéia de contextualizar a morbimortalidade no trânsito em uma problematização da questão para além de circunstâncias mais imediatamente circunscritas aos ditos acidentes vai também ao encontro de visões e conceitos mais recentemente desenvolvidos nos setores ligados aos transportes e ao meio ambiente.27 Estas concepções, expressas em abordagens influenciadas por preceitos de desenvolvimento sustentável e equidade social (entendida como o estabelecimento de prioridades para garantir justiças), preconizam a indissociabilidade das questões da circulação nas vias das políticas de transporte e de uso do solo, envolvendo, por decorrência, os componentes ambientais e socioeconômicos aí implícitos.
Estas visões deparam-se, naturalmente, com práticas fundamentadas em rígidas segmentações do conhecimento, de funções e de responsabilidades em relação à mobilidade: desafio que os envolvidos em ações como o Programa de Redução da Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito, do Ministério da Saúde, identificaram na prática, ao constatarem a falta de tradição de trabalho intersetorial, entre outros entraves.22 Mas, não obstante a resistência dos setores acomodados nestas práticas, os próprios impasses gerados pelo esgotamento dos modelos tradicionais têm suscitado a busca de paradigmas que respondam de maneira eficiente aos desafios existentes.
Referências
1. Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Impacto social e econômico dos acidentes de trânsito nas aglomerações urbanas brasileiras - Síntese da pesquisa. Brasília: Ministério do Planejamento; 2003.
2 . Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Saúde Brasil Desigualdade e determinantes da mortalidade por violência. In: Ministério da Saúde. Saúde Brasil, 2006: uma análise da desigualdade em saúde. Brasília: MS; 2006.
3. Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Impactos sociais e econômicos dos acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras - Relatório Executivo. Brasília: Ministério do Planejamento; 2006.
4. World Health Organization. World Report on Road Traffic Injury Prevention. Geneva: WHO; 2004.
5. United Nations. The United Nations General Assembly. Improving global road safety, resolution A/RES58/289 [Internet]. UN [cited 2006 Sept. 28, for information from 2004]. Available from: http://www.who.int/violence_injury_prevention/media/news/en/unga_58_289_en.pdf
6. Instituto de Seguridad y Educación Vial. La educacion vial no sirve.... Foro Buenos Aires ISEV Defensa 1328 - (5411-43614818/4986) [Internet]. Buenos Ayres: ISEV [Acesso en 11 Sept. 2007, de información, 2006]. Disponible en: http://www.isev.com.ar/interpreters/yabb2/YaBB.pl?num=1148740674
7. Vasconcellos EA. Reavaliando os acidentes de trânsito em países em desenvolvimento. Revista dos Transportes Públicos 1994;3:5-26.
8. Brasil. Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Diário Oficial da União, Brasília, p. 21201, 24 set 1997. Seção 1.
9. Pavarino FRV. Aspectos da educação de trânsito decorrentes das teorias de segurança de trânsito e alternativas. Transportes 2004;21(1):59-68.
10. Instituto de Seguridad y Educación Vial. Segundo Informe datos básicos tránsito y seguridad vial latinoamericano: la educación vial en latinoamérica. Buenos Ayres: ISEV; 2006.
11. Lonero PL, Clinton KM. Changing road user behavior - what works, what doesn't. Toronto: Northport Associates, PDE Publications; 1998.
12. Tight M, Page M, Wolinski A, Dixey R. Casualty reduction or danger reduction: conflicting approaches or means to achieve the same ends? Transport Policy 1998;5(3):185-192.
13. Kopits E, Cropper M. Traffic fatalities and economic growth (Policy Research Working Paper no 3035) [Internet]. Washington, DC: The World Bank [cited 2005 Sept. 15, for information from 2003]. Available from: http://www.ntl.bts.gov/lib/24000/24400/24490/25935_wps3035.pdf
14. World Health Organization. Road traffic accidents: epidemiology, control and prevention. Public Health Papers no 12. New York: Columbia University Press; 1962.
15. World Health Organization. Ottawa Charter for Health Promotion. First International Conference on Health Promotion Ottawa, 21 November 1986 - WHO/HPR/HEP/95 [Internet]. Geneva: WHO [cited 2006 Nov. 17]. Available from: http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf.
16. Buss PM. Promoção da saúde e qualidade de vida. Ciências e Saúde Coletiva 2000;5(1):163-177.
17. Leavell H, Clark EG. Medicina preventiva. São Paulo: McGraw-Hill Inc.; 1976.
18. Candeias NMF. Conceitos de educação e de promoção em saúde: mudanças individuais e mudanças organizacionais. Revista de Saúde Pública 1997;31(2):209-213.
19. Roberts I, Coggan C. Blaming children for child injuries pedestrian. Social Science and Medicine 1994;38(5):749-753.
20. Faria EO, Braga MGC. Avaliar programas educativos para o trânsito não é medir a redução de acidentes ou de exposição ao risco de acidentes. Anais do XIX. Congresso Ensino e Pesquisa em Transportes; 2005; Recife; Brasil. Recife: Anpet; 2005.
21. Trinca GW, Johnston IR, Campbell BJ, Haight FA, Knight PR, Mackay GM, et al. Reducing traffic injury: a global challenge. Mel-bourne: Royal Australasian Collegeof Surgeons; 1988.
22. Souza ER, Minayo MCS, Franco LG. Avaliação do processo de implantação e implementação do Programa de Redução da Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito. Epidemiologia e Serviços de Saúde 2007;6(1):19-32.
23. Pavarino FRV, Affonso NS. Uma revolução de atitudes em Brasília. Revista dos Transportes Públicos 1998;78:17-22.
24. Murray CJL, Lopez AD. The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020. Boston: Harvard School of Public Health; 1996.
25. Malta DC, Lemos MAS, Silva MMA, Silveira EMR, Morais Neto OL, Carvalho CG. Iniciativas de vigilância e prevenção de acidentes e violência no contexto do Sistema Único de Saúde. Epidemiologia e Serviços de Saúde 2007;16(1):45-55.
26. Davis A. Liveable streets and perceived accident risk: quality of life issues for residents and vulnerable road users. Traffic Engineering and Control 1992;33(6):374-379.
27. International Association of Public Transport. Ticket to the future: 3 Stops to Sustainable Mobility. Belgium: UITP; 2003.
Endereço para correspondência:
Universidade de Brasília,
Campus Universitário Darcy Ribeiro,
Edifício do Ceftru, Brasília-DF, Brasil.
CEP: 70919-970
Recebido em 24/03/2009
© 2013 Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços / Secretaria de Vigilância em Saúde / Ministério da Saúde
SCS, Quadra 4, Bloco A, Edifício Principal,
5º andar, Asa Sul, Brasília-DF
Para voltar ao início do documento, clique aqui
Para baixar o documento completo em formato pdf, clique aqui