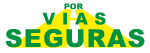Pavarino: "A segurança do trânsito só se torna prioridade para governos quando o é para a sociedade"
Necessidade de uma cultura de segurança amplamente compartilhada para superar o desafio dos acidentes de trânsito.
Para Roberto Vítor Pavarino, enquanto as tragédias diárias continuarem a ser vistas como “acidentes”, continuarão a ser só mais um “problema”.
Marina Lemle

Morador de Brasília e portanto testemunha ocular de BMWs que param para pedestres atravessar mesmo sem sinal luminoso ou guarda, o especialista em segurança no trânsito Roberto Victor Pavarino Filho (foto) acredita ser possível reduzir a violência no trânsito no Brasil, mas vê avanços lentos e um longo caminho a percorrer.
Pavarino é consultor nacional da OPAS/OMS para o Projeto RS10/Vida no Trânsito – contribuição brasileira, coordenada pelo Ministério da Saúde, para a Década de Ação pela Segurança no Trânsito, instituída pela ONU com o objetivo de reduzir pela metade as mortes no mundo até 2020.
Para o especialista, que, de 2006 a 2010, coordenou o Laboratório de Ensino e Aprendizagem em Transportes do Centro de Estudos Multidisciplinares em Transportes da Universidade de Brasília, a morbimortalidade no trânsito só se torna prioridade para os governos quando o é para a sociedade. Nesta entrevista à Associação Por Vias Seguras, Pavarino afirma que o trânsito pode servir como instrumento da prática e consolidação da cidadania e destaca a relevância da educação de trânsito para estimular a reflexão e o questionamento das pessoas acerca da questão. Para ele, além da transversalização do tema nas diversas disciplinas, é recomendável desenvolver projetos educativos focados em problemas específicos do trânsito local.
Artigo seu, intitulado Morbimortalidade no trânsito: limitações dos processos educativos e contribuições do paradigma da promoção da saúde ao contexto brasileiro (Epidemiologia e Serviços de Saúde, dez/2009), afirma que iniciativas como a determinação da prioridade dos pedestres nas faixas de travessias sem semáforo em Brasília cumprem também uma função simbólica, ao redefinir relações e empoderar os pedestres. Intervenções como esta podem induzir a prática da cidadania?
Sem dúvida. Mostram o quanto o trânsito se presta como instrumento formidável da prática e consolidação da cidadania mesmo para outras situações que não no trânsito. Não me ocorre imagem mais clara de cidadania do que um carro parado diante de um pedestre aguardando sua travessia, principalmente quando isto já se dá sem semáforo ou necessidade de agente policial para garantir esse direito.
Qual seria, efetivamente, o poder e o alcance da educação de trânsito para a redução da violência no trânsito, que hoje tem dimensão de epidemia?
Nada resolve "tudo". A educação, em suas várias acepções, é uma entre as intervenções que compõem os esforços nesse sentido. Ela informa, comunica, propicia a reflexão (ou pode propiciar, a depender da abordagem...) e auxilia, assim, a compreender a razão de ser das coisas ou – por que não? - questioná-la. Isto pode legitimar e facilitar as ações no campo da fiscalização ou caracterização do ambiente de circulação construído.
O senhor fala na necessidade de transversalização e interdisciplinaridade na educação de trânsito. Isso já está acontecendo?
Já testemunhei pessoalmente, li e ouvi relatos. Mas não conheci - por limitações minhas, possivelmente - experiências que tenham se dado de forma sistemática. Mas reconheço também que transversalizar a temática (trânsito ou qualquer outra) está longe de ser empresa fácil, dado o que isso exige do próprio sistema de ensino. As perspectivas transversais buscam abordar o tema de modo contínuo ao longo dos anos letivos, o que por certo pode ser uma perspectiva interessante e válida, mas garantir sua sustentabilidade nem sempre é fácil. Penso ainda que esta tampouco seja a única forma de se abordar o tema. A pedagogia de projetos (com começo, meio e fim) traz opções interessantes. Por exemplo, trabalhar em uma ou mais disciplinas a questão dos carrinhos de catadores de lixo no trânsito teria um foco específico, de curto prazo, com objetivos pensados previamente e atividades desenvolvidas (grupos fariam pesquisas, reportagens, exposições de fotografias, debates etc). É algo que pode ser pensado como “menor” que um programa de longo prazo, mais ambicioso e interprogramático. Mas também é válido e tangível.
Em 2004, o senhor publicou na Revista Transportes o artigo Aspectos da educação de trânsito decorrentes das proposições das teorias da segurança - Problemas e Alternativas, no qual explica que, durante a ditadura, os trabalhos voltados para a educação no trânsito, salvo exceções, tendiam ao moralismo e tinham caráter manualesco, o que perdurou nas décadas seguintes, mantendo-se o foco nos “motoristas de amanhã” e com isso ignorando a maioria da população, sem acesso a automóveis. Poderia dar exemplos?
Lembro-me de abordagens que se propunham a ensinar crianças (do ensino fundamental!) as diferenciações de placas diplomáticas e oficiais e aspectos administrativos da legislação. Propostas que pareciam se prestar a ser mais uma “auto-escola mirim”, preparando as crianças para sua futura “alforria” – a condição de condutores de veículos.
Isso mudou? Como se caracteriza a produção na área no Brasil?
Seria difícil falarmos do "Brasil”, que são vários... Mas, de maneira geral, penso que atitudes mais voluntaristas do que fundamentadas (embora bem intencionadas) ainda grassam. Mas não deixo de reconhecer avanços paulatinos, principalmente na última década.
Diz o artigo: “Uma educação de trânsito transformadora não poderá abrir mão de uma atitude questionadora e crítica. Mais do que concordar com as normas, é preciso que se discuta a sua razão de ser – condição esta para o respeito genuíno”. Como isto pode ser feito na prática?
O artigo 72 do CTB (Capítulo V- “Do Cidadão) dá uma dica. “In verbis”:
Art 72 - Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar, por escrito, aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este Código.
E o artigo seguinte arremata:
Art. 73 - Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder, por escrito, dentro de prazos mínimos, sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada, e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá.
Como os preceitos contemporâneos de desenvolvimento sustentável e equidade social se aplicam às políticas de transporte e de trânsito?
O favorecimento a modalidades de transporte saudáveis, energética, ambiental e economicamente sustentáveis – como deslocamentos a pé, por bicicleta e transporte público de qualidade – podem se dar não apenas por uma resposta às demandas por estes meios, mas pela indução a elas, com investimento efetivo nas condições favoráveis de circulação para esta alternativas.
Qual a importância da intersetorialidade?
O olhar que as diversas áreas emprestam para a identificação e o encaminhamento de soluções aos problemas. Isto, é verdade, demanda mais esforço e exercício de aceitação e ponderação das diferenças. Mas visões compartimentadas há muito já mostraram sua exaustão, ineficácia e fragilidade.
Como avalia os esforços brasileiros para atingir as metas da Década pela Segurança no Trânsito (2011-2020)?
Esforços tem sido feitos. Mas há um longo caminho a ser percorrido.
Quais as suas expectativas? Faria recomendações aos gestores e à sociedade civil?
1,2 milhão de vidas perdidas anualmente em todo mundo em eventos comprovadamente evitáveis é moralmente inaceitável. É sempre cômodo culpar governos, mas vale lembrar que a morbimortalidade no trânsito, como outros assuntos, só se torna uma real prioridade para os governos quando o é para a sociedade. Enquanto a visão destas tragédias diárias continuarem a ser vistas como “acidentes”, elas tenderão a ser mais um “problema”, fatalidades que não se elevam ao nível de questão. Mas o mesmo país que me assusta com números alarmantes é o que me surpreende. Em fim dos anos 90, se alguém dissesse que, em uma capital cheia de autoridades, uma BMW pararia espontaneamente para uma empregada doméstica atravessar na faixa, seria sarcasticamente ironizado. No entanto...