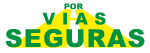Morbimortalidade no trânsito: limitações dos processos educativos e contribuições do paradigma da promoção da saúde (2a parte)
(Extrato de um artigo de Vitor Pavarino, CFTRU, Brasília, 2009)
Mudanças na percepção do problema
Promoção da saúde
Promoção da saúde e morbimortalidade no trânsito
A redução do risco
A educação neste contexto
Saídas e bandeiras
A situação descrita, ainda que não imponha uma renúncia às possibilidades da educação de trânsito, reclama sincera revisão de suas premissas, para que não continue a merecer desconfiança. Neste contexto, o envolvimento do setor de saúde na problemática do trânsito, aliada a mudanças nos paradigmas da segurança nesta área, surge em boa hora.
Mudanças na percepção do problema
Um dos aspectos notáveis do referido relatório da OMS é o registro da evolução da percepção da questão da prevenção de lesões ocorridas no trânsito, que se deu entre as primeiras incursões da Organização Mundial da Saúde neste campo. Publicado em 1962, o relatório elaborado por Leslie G. Norman - à época médico-chefe do London Transport Executive - o relatório Road traffic accidents: epidemiology, controland prevention14 foi o primeiro entre os trabalhos mais significativos da OMS no âmbito do controle e prevenção dos então chamados "acidentes de trânsito", enfatizando-se o fato de, não obstante os danos excederem o de todas as demais enfermidades de que se tinha notícia (ao menos em países com altas taxas de motorização), raramente se reconheciam as lesões advindas de incidentes no transporte de pessoas e bens como um problema de saúde pública.
O trabalho foi voltado a profissionais das áreas de saúde pública, das engenharias rodoviária e de tráfego, da indústria automobilística, assim como a legisladores e grupos organizados de cidadãos, tendo trazido o que de mais recente havia sobre a temática da segurança no trânsito. Nesta empreitada, Norman recorreu aos fundamentos mais familiares de epidemiologia, utilizando- se dos conceitos de hospedeiro (host), relativo ao usuário da via; o de agente (agent), em equivalência ao veículo; e de ambiente (environment), que diria respeito à via de tráfego. E uma vez que se assumia que o comportamento de condutores e pedestres engendrava a maior parte da responsabilidade pelos eventos entendidos como "acidentes de trânsito", uma ênfase maior foi emprestada à ação dos usuários do sistema viário, particularmente no que se refere à velocidade e à direção sob efeito de bebida alcoólica.
Entretanto, desde as iniciativas pioneiras, representadas em marcos como o relatório de 1962, ocorreram mudanças nas percepções da questão da segurança viária, assim como nas práticas preventivas neste âmbito, por parte de profissionais e estudiosos do assunto. O World Report on Road Traffic InjuryPrevention,4 que veio a público quatro décadas após o trabalho coordenado por Norman, identifica esta mudança de paradigma. E tendo sido um dos objetivos do relatório de 2004 levar informações atualizadas a um público mais amplo do que o pretendido pelo relatório anterior, o World Report aponta, já em seu primeiro capítulo, as modificações na percepção da questão da prevenção às lesões no trânsito, resumidas em sete princípios básicos, quais sejam:
1. Os traumatismos no trânsito são, em grande medida, previsíveis e preveníveis. Constituem problemas causados por seres humanos, podem ser objetos de análise racional e de aplicação de medidas corretivas.
2. A segurança viária é questão multisetorial. Todos os setores precisam se comprometer a se responsabilizar, agir e advogar a prevenção dos traumatismos no trânsito.
3. Os erros mais comuns dos condutores e o comportamento de pedestres não devem levá-los a mortes e ferimentos. Os sistemas de trânsito devem auxiliar os usuários a lidar com as condições cada vez mais difíceis que enfrentam.
4. A vulnerabilidade do corpo humano deve ser um parâmetro determinante para o desenho do sistema e o controle da velocidade é crucial.
5. Os traumatismos no trânsito são uma questão de equidade social - proteção equitativa deve ser provida a toda a população, uma vez que os usuários não motorizados sofrem de maneira desproporcional os traumatismos e riscos no trânsito.
6. A transferência de tecnologia de países centrais para países em desenvolvimento deve se adaptar às condições locais e remeter-se a necessidades apontadas em pesquisas locais.
7. O conhecimento local deve prover as bases para a implantação de soluções locais.
Diante de tais diretrizes e da análise das ações propostas, é possível verificar que as conclusões e recomendações contidas no documento da OMS sinalizam inequivocamente um referencial conceitual identificado com o que se convencionou denominar "promoção da saúde", onde a ênfase à transformação dos ambientes está na essência das intervenções.
Promoção da saúde
Com forte alusão aos condicionantes sócio-ambientais que determinam os riscos e a qualidade de vida, o paradigma promocional, cujo marco referencial costuma ser identificado na Carta de Ottawa,15 promulgada em meados da década de 80, teve seus fundamentos desenvolvidos em uma série de conferências internacionais. 16 Apesar de o conceito ter, em princípio, designado certo nível de medicina preventiva,17 sua essência experimentou mudanças até assumir a conotação mais "política" que atualmente o caracteriza, relacionando-o ao protagonismo social, à sustentabilidade, à equidade e à intersetorialidade.16
A idéia de "promoção da saúde" tem sido, algumas vezes, contraposta ao conceito de "educação em saúde", uma vez que nesta visão, como nas abordagens tradicionais de segurança no trânsito, identifica-se certa tendência em se responsabilizar as próprias vítimas.12 A promoção da saúde, entretanto, não exclui as ações e intenções de medidas educativas - antes, pelo contrário, as pressupõem.18 Ambas as perspectivas objetivam a vida saudável, mas enquanto a educação em saúde centra-se na organização lógica das intervenções didáticas, visando modificar o comportamento dos indivíduos (em escolas ou ambientes de trabalho, por exemplo), a promoção da saúde não dispensa a educação sistemática, mas, ao primar pela busca de condições objetivas que conduzam à saúde, extrapola a dimensão comportamental interpessoal para centrar- se em esferas mais amplas das relações sociais, permeadas pelos componentes políticos, econômicos e culturais que determinam a realidade.
A educação em saúde, a título de exemplo, concitaria as pessoas a deixarem de fumar, a fazerem uso de preservativos e a terem uma alimentação saudável. Alternativamente, a promoção da saúde alvejaria a publicidade das indústrias de cigarros e de bebidas alcoólicas ou, ainda, buscaria maneiras de facilitar o acesso aos referidos preservativos e a alimentos saudáveis. Com efeito, fazer com que a opção saudável seja a escolha mais fácil, sintetiza, de certa forma, um dos pilares da abordagem promocional.
Promoção da saúde e a morbimortalidade no trânsito
Assim como em outras áreas, a promoção da saúde no âmbito da prevenção aos traumas no trânsito não dispensa o trabalho educativo. O foco da ação promocional, entretanto, recai mais acentuadamente sobre os produtores e reprodutores do ambiente, bem como a esfera jurídica, técnica e política que o determina. E quando voltada à população de maneira geral, o componente educativo que se assume não prescinde da informação preventiva, mas dedica ênfase a estratégias de mobilização por um ambiente mais humano e seguro. A diminuição dos traumas e suas consequências, nesse sentido, não são os únicos objetivos da promoção de saúde voltada à segurança no trânsito, uma vez que a qualidade da vida - e não apenas sua preservação - é colocada em pauta. A este respeito, Tight e colaboradores12 contrapõem a dicotomia educação-promoção de saúde a outra existente no setor de segurança viária, que opõe uma visão favorável à redução dos acidentes e seus danos no trânsito (accident and casualty reduction approach) a uma perspectiva que advoga esta redução a partir da diminuição dos riscos existentes (danger reductionapproach).
A redução do risco
A princípio, nada pode parecer mais louvável e justificável que a intenção de se reduzir - ou, melhor ainda, se eliminar - as lesões e mortes no trânsito em determinados contextos. Tal redução, no entanto, pode ocorrer à custa de significativa limitação da mobilidade ou, em outras palavras, cerceando-se o direito de um grande número de pessoas ao acesso efetivo a lugares.19 É possível, por exemplo, reduzirem-se atropelamentos impedindo, com barreiras, o tráfego de pedestres. É também possível evitar a morte de ciclistas, intimidando ou proibindo as bicicletas em certos lugares. Eliminam-se os conflitos, nestes casos, eliminando-se os próprios deslocamentos, fazendo com que as pessoas alterem suas trajetórias (quando isto é possível) ou mesmo desistam das viagens aos lugares que necessitem ou desejem ir. A constatação do êxito em certas políticas de segurança, assim, requer ponderação. O aumento do tráfego motorizado e a forma com que as vias são utilizadas podem intimidar e reduzir a presença das modalidades mais vulneráveis e, consequentemente, a estatística de mortos e feridos. Mas isto não significa que o trânsito tornou-se melhor ou mais seguro. Tornou-se apenas mais hostil e intimidante.
Paralelamente a esta abordagem da "redução de acidentes e danos", a visão da redução dos riscos segue orientação distinta. A diferença parece sutil, pois ambas as visões parecem se confundir (e confundir o leitor), mas enquanto a primeira delas busca minorar a exposição das pessoas aos riscos, (ou seja, a "convivência delas com o perigo") a segunda pretende diminuir os "riscos propriamente ditos", como em medidas de moderação de tráfego (traffic calming), advogando-se a redução das velocidades médias e priorizando-se modalidades não-motorizadas.
Embora também objetive a redução dos traumas, a perspectiva da redução dos riscos empresta ênfase à "fonte dos perigos" e, ao procurar influenciar condutas a partir da ação no ambiente onde se trafega, revela identidade com os preceitos promocionais de saúde. As abordagens da educação em saúde e da redução dos acidentes e danos, nesse sentido, teriam por método o levantamento e análise de dados, para então disseminarem-se informações preventivas, voltadas à conduta dos indivíduos. Já a perspectiva promocional e a visão da redução de riscos também recorrem às análises de dados e a conteúdos educativos. Mas seus focos são as coletividades e o ambiente físico, social e político que as envolve. Nesta orientação, priorizam-se as ações voltadas à legislação, à engenharia do espaço e à pressão por ambientes mais seguros. Enquanto, por exemplo, a abordagem da redução dos acidentes e danos dita aos pedestres o dever de usarem as passarelas ou informa os ciclistas sobre o uso do capacete, a visão da redução dos riscos reivindica alternativas mais atrativas para pedestres e a construção de ciclovias.
Não obstante a validade das advertências, a ótica da redução de acidentes e danos tende a "individualizar" o problema, culpando o ciclista ferido, por exemplo, pelo fato de ter negligenciado o capacete como recurso protetor. Entretanto, nada faz para mudar o ambiente que proporciona o perigo e a queda dos que utilizam bicicletas. A ação promocional, por certo, não descartaria o valor da informação sobre o capacete. Mas, mais provavelmente, dedicaria precedência à sensibilização dos responsáveis pela gestão do trânsito, abordando as peculiaridades do ciclismo e advogando condições para esse tipo de transporte.
A educação neste contexto
Como analisado, a promoção da saúde não só não abdica como pressupõe a educação, mas o faz em outras bases. As medidas educativas dirigidas a quem circula nas vias, nesta perspectiva, têm, por certo, a preocupação primeira com sua integridade física. Mas a atenção a este imperativo se dá a partir da conscientização dos deslocamentos das pessoas como uma dinâmica condicionada à forma com que as prioridades são estabelecidas e como os espaços são estruturados - aspectos que remetem, invariavelmente, à discussão dos processos democráticos, às políticas de transportes e à natureza da ocupação dos espaços públicos. Nesta visão, a ação preventiva pressupõe reflexão diante das informações e reclama o entendimento da razão de ser das normas para que sejam legitimadas, ou seja: internalizadas e aceitas por nelas se identificar um sentido. Prima-se, em suma, por posicionamentos críticos e mudanças de comportamento a partir de mudanças de "atitudes".
Tais elementos podem dar o tom dos conteúdos e métodos de outras ações voltadas à formação de condutores, a palestras ou campanhas. Entretanto, cumpre assinalar que o sucesso dos trabalhos não pode ser avaliado a partir somente da redução do número de mortos e feridos no trânsito em dados momentos ou locais - mesmo que isso venha desejosamente ocorrer.20 Com efeito, para a redução de colisões ou atropelamentos em um determinado ponto crítico, a construção de uma lombada pode constituir-se ação emergencial mais efetiva do que um programa educativo. A eficácia da educação estará, nesse caso, mais associada à conscientização dos seus públicos-alvos ou - aproveitando-se o exemplo utilizado - na capacidade de mobilizá-los para obter-se a referida lombada.
A ação educativa junto ao público geral age na formação de gerações cujos representantes, em algum momento, poderão influenciar mudanças no ambiente político referido por Vasconcellos.7 Mas é junto aos responsáveis pela produção do ambiente de circulação, igualmente referido por aquele autor, que a promoção da saúde dispensará boa parte de seus esforços - seja por meio de pressões, seja pela difusão dos meios e formas de agir, dando visibilidade a alternativas concretas.
Para continuar a leitura, clique aqui
Para voltar ao início do documento, clique aqui
Para baixar o documento completo em formato pdf, clique aqui